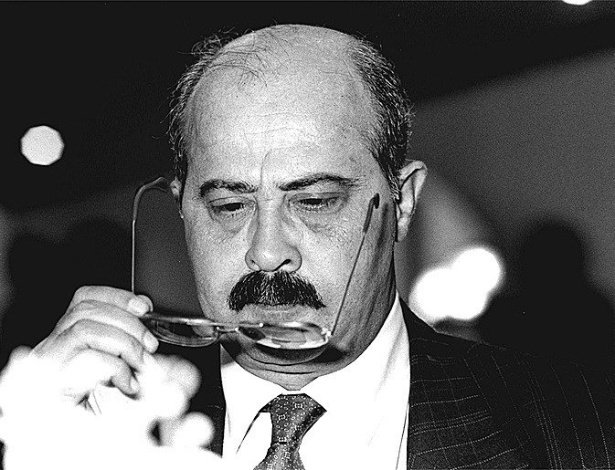Tchau, Maracanã, foi bom ter te conhecido...
04/06/13 07:05Assisti ao jogo Brasil vs. Inglaterra domingo, pela TV, para ver como estava o “novo” Maracanã. Fiquei muito, mas muito triste. Não era o mesmo lugar que visitei pela primeira vez em 1970, levado – e fotografado, veja abaixo – por meu avô, que na época ainda tentava me convencer a torcer pelo Botafogo (mas eu já tinha dois anos e, felizmente, pressenti que era roubada).
Para começar, vi uma torcida calada e comportadinha. Parecia que os torcedores estavam assistindo a um concerto no Municipal, todos constrangidos em falar alto ou parecer deselegantes.
Quando as câmeras mostravam o público, procurei um negro. Não achei. Também não vi sinal dos torcedores folclóricos que sempre habitaram o estádio.
Estou com medo de ir ao “novo” Maracanã. Fui ao último jogo antes do fechamento, Vasco vs. Fluminense, em 2010, e planejo voltar assim que acabar essa presepada dessa Copa das Confederações. Mas tenho quase certeza de que vou me decepcionar.
Não estou fazendo elogio da pobreza. Ninguém é a favor de estádios obsoletos e desconfortáveis. Só acho que é possível conciliar conforto e segurança com um certo respeito às tradições, o que, infelizmente, não aconteceu com o Maracanã.
Aliás, o Maracanã estava longe de ser obsoleto. Para quem tinha medo de machucar seu valioso traseirinho no cimento quente e áspero da velha arquibancada, vale lembrar que o cimento já sumira do estádio há mais de uma década. Desde 2000, o Maraca tinha assentos anatômicos e indolores – ao custo de meio bilhão de reais, mais ou menos.
Agora, gastamos mais 1,2 bilhão, o dobro do que seria honesto gastar em um estádio novo, para transformar um lugar único em uma “arena” banal. Bem disse Thiago Silva ao final do jogo: “Parece coisa de Europa”. Parece mesmo. Só não parece o Maracanã.
Se eu tivesse 1,2 bilhão de reais, gastaria metade construindo um estádio novo na Barra da Tijuca, batizaria o colosso de “Arena Cururu”, poria um Playstation em cada assento e deixaria o Maracanã em paz.
Pensando bem, era só questão de tempo até acabarmos com o Maracanã. O processo de “vipização” de nossas cidades já extinguiu os cinemas de rua, transformou botequins em “espaços gourmet” e embranqueceu os desfiles das escolas de samba. O passo lógico era acabar com o futebol também.
O jogo de domingo teve pouco menos de 60 mil pagantes e uma renda de nove milhões de reais. Dá uma MÉDIA de 150 reais por ingresso. Talvez o Eike possa levar os filhos ao estádio; eu não.
Podem me chamar de saudosista, de apologista da pobreza, não me importo. Mas eu realmente gostava da arquibancada de cimento, gostava de trocar de lado para ver meu time atacando no segundo tempo, gostava de andar pela arquibancada e encontrar os amigos, gostava de entrar naquele túnel estreito e ver, aos poucos, o verde do gramado aparecendo. Principalmente, gostava do eco da marquise do Maracanã. Será que o eco estaria no “padrão FIFA”?