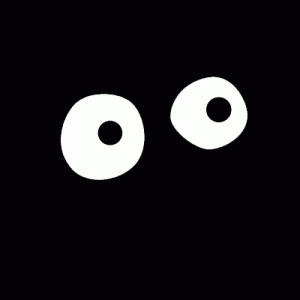Sorvete de chocolate causa tragédia
16/04/12 07:11
Poucas coisas me deixam mais nervoso que ir ao supermercado. Prefiro fazer um tratamento de canal a aturar a fila da mortadela.
Nunca me importei em pagar um pouco a mais numa mercearia de bairro. Na verdade, faço o que posso para não dar dinheiro a esses megamercados, com seus comerciais cheios de famílias sorridentes comprando margarina.
Há pouco mais de dez anos, passei por um caso traumático envolvendo uma dessas redes poderosas.
Na época, eu morava bem em frente a um supermercado gigante.
Como o lugar funcionava 24 horas, eu sempre fazia compras à noite, para evitar muvucas.
Um dia, eu estava na fila e a caixa perguntou: “Senhor, teve algum produto que não encontrou?”
Devia ser a centésima vez que me perguntavam aquilo. Eu nunca tinha pensado em responder, até porque estava sempre doido para sair dali, mas falei, meio que por instinto:
“Teve sim, sorvete de chocolate pequeno.”
“Como assim, senhor?”
“É, só tem sorvete de chocolate de dois litros. É muito sorvete pra uma pessoa. Custava ter uma embalagem menor?”
A mulher imediatamente ficou com o semblante tenso e assumiu uma posição de alerta; parecia uma fuzileira naval passando por uma inspeção:
“Senhor, vou falar AGORA MESMO com nossa central de pedidos e requisitar o sorvete de chocolate pequeno! Vou exigir uma resposta rápida para seu pedido!”
Normalmente, eu nem me importaria com aquilo. Eu não estava nem aí pro sorvete.
Mas aquela pataquada de atendimento perfeito, aquela pose ridícula de eficiência corporativa, me irritaram. Prometi que voltaria depois em busca do sorvete de chocolate pequeno.
Alguns dias depois, voltei ao lugar. Nada de sorvete pequeno. Fiz questão de ir à mesma caixa.
“Senhor, teve algum produto que não encontrou?”
“Teve sim, o sorvete de chocolate pequeno que você me prometeu semana passada.”
Parecia que eu tinha anunciado a falência da empresa. Em dez segundos, a caixa tinha chamado um gerente, e este, aos berros, convocado um infeliz de um repositor de estoque, que não tinha nada a ver com a história. O gerente começou a esbravejar com o sujeito:
“Mas como? O cliente pediu o produto há DIAS e nós não conseguimos? Isso é inadmissível! Não é assim que trabalhamos!”
Não sei o que me deixou mais furibundo, se a subserviência da caixa ou a prepotência do gerente com o pobre funcionário.
A coisa azedou. Eu disse ao gerente que ia voltar lá TODO DIA, até eles conseguirem o sorvete de chocolate pequeno, e que ia ligar para a ombudsman (sim, a rede tinha uma ombudsman) todo dia, até resolverem a questão.
Cumpri a promessa: toda manhã, a primeira ligação era para a ombudsman. E toda noite eu dava uma passada no supermercado, só para confirmar que eles não haviam conseguido o maldito sorvete.
Isso durou uns dois meses.
Chegou ao ponto de a secretária da ombudsman já reconhecer a minha voz, pedir desculpas antecipadamente e dizer que eles estavam “fazendo de tudo” para resolver o problema.
E o gerente, assim que me via, sumia e mandava dizer que não estava.
Eu estava disposto a levar aquilo até o limite. Ou eles conseguiam o maldito gelato, ou teriam de admitir sua incapacidade.
Tudo corria bem, até que abri o jornal um dia e li uma notícia que me deixou petrificado: a ombudsman tinha sofrido uma parada cardíaca no Aeroporto de Congonhas e morrido.
Fiquei mal pacas, com um tremendo peso na consciência.
Nunca mais entrei no tal supermercado. E, pouco depois, mudei pra outro bairro. Mas nunca achei o sorvete de chocolate pequeno.
A saga continua.